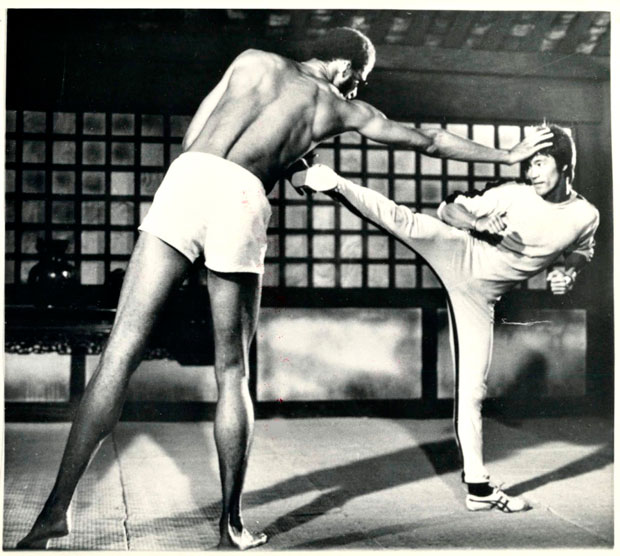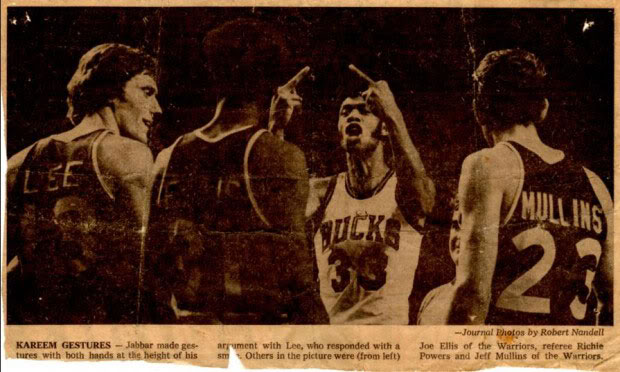Visto no MixBrasil
Na sociedade greco-romana, a produção do sujeito também estava relacionada ao processo de envelhecimento. Era preciso viver para ser velho, pois só então o sujeito se completaria. Atingir a velhice constituía o objetivo da vida. Portanto, não fazia sentido atribuir um modo específico de vida para cada fase. A vida é processo e não uma fase seguida da outra. Logo, ser velho tornava-se um privilégio: o de ter desfrutado uma longa existência. Não havia o que descobrir. Era preciso se tornar, construir-se a cada instante. Ficar com os próprios desejos e não com os desejos dos outros. Na atualidade, o culto ao eu e aos excessos do prazer são estimulados gerando um estado de carência permanente.
Já na antiguidade greco-romana, não se atingiria a sabedoria de si sem o combate das paixões e apetites exagerados. O cuidado de si tem o objetivo de se produzir e atingir o próprio modo de ser. A velhice era caracterizada pela plenitude de uma relação acabada consigo. No sistema capitalista o ser humano passa a valer o quanto produz. O velho não é visto nem como produtor, muito menos como reprodutor e sim como um parasita inútil. Para organizar melhor as relações sociais, os diversos ramos da ciência organizaram as idades nas chamadas: cronológica, biológica, social e psicológica.
O que é valorizado na atualidade é a juventude. Esta simboliza força, adaptabilidade, criatividade, produtividade, consumo, esperteza, agilidade, versatilidade e rapidez. As chamadas adolescência e idade adulta se confundem. Todos buscam permanecer nos vinte e cinco anos de idade para sempre. O horror à velhice nasce da sociedade narcisista e do culto ao eu jovem, magro e sarado. A velhice é vista como uma ameaça aos atributos admirados e valorizados.
Infelizmente os homossexuais não fogem a esse contexto, pois os atributos físicos são muito valorizados em seu meio. O poder não vem apenas do cultural e do capital, ele vem também do culto ao corpo e do enorme consumo que isso gera, alimentando diversos ramos dos mercados ligados à saúde, economia e política. As marcas do corpo interpretadas como marcas de velhice são associadas a marcas de velhice que também surgem na mente. É como se o corpo fosse o reflexo direto de algo que também está acontecendo na mente, ou seja, corpo em decadência será igual a uma mente em decadência. A velhice, em geral, é culturalmente associada com morte iminente e a decadência física.
Porém, vem adquirindo importância devido ao aumento do número de idosos. Esta faixa da sociedade está sendo normatizada através do consumo e de padrões de comportamento que lhe são impostos. De maneira geral, o idoso será pressionado a tentar se adequar aquele que é considerado o modelo ideal pela sociedade de controle: o jovem sarado, bonito, ágil, produtivo, flexível, independente e consumista. Mais uma vez os homossexuais masculinos por estarem inseridos nessa mesma sociedade, não são poupados dessa pressão.
Os modelos de velhice valorizados são representados por idosos que enfrentam desafios, fazem projetos para o futuro, mantêm uma agenda completa de atividades, mostram-se criativos, joviais e relutam em se aposentar. Parece que o modelo tradicional de velhice que pressupunha o idoso em casa, aposentado, doente, decadente, isolado e aguardando a morte chegar, está mudando rapidamente. A sociedade de controle impõe que os modelos tradicionais se alterem para se adequar a produção e ao consumo sem limites.
O idoso geralmente costuma sofrer o estigma daquele que é lento, rígido, sistemático, metódico, dependente e inflexível. Conforme as rápidas mudanças ocorridas no mundo nos últimos tempos, a indústria da moda vem diminuindo cada vez mais o tamanho dos vestuários, desde o início do século XX. Gradativamente surgem peças menores tanto para homens como principalmente para as mulheres. Os corpos vão sendo cada vez mais expostos conforme as décadas desse século avançam. A partir da década de 1980, os corpos já estavam bem amostra, e a famosa “geração saúde” crescia expressivamente em todas as classes sociais. Desde então, o culto ao corpo tem tido o objetivo de corporificar “identidades” pautadas em modelos inalcançáveis, onde cada um se torna individualmente responsável pelo corpo que tem.
Viver o infinito da vida, no finito de cada instante. É justamente o desafio que Friedrich Nietzsche (1844-1900) propõe a todos (homossexuais ou não) a teoria do eterno retorno. Ela consistia em fazer com que os homens pensassem que ao morrerem, retornariam ao exato momento de seu nascimento e tudo o que passou seria exatamente repetido infinitas vezes. Ele acreditava que se pensássemos na vida tendo como referência esse “eterno retorno”, seríamos muito mais responsáveis nas escolhas de nossos atos, porque saberíamos que cada ato, cada palavra, cada ação, assim como a ausência delas, seria repetida pela eternidade. Seu intuito era que o homem enxergasse assim a vida para que a vivesse da forma mais plena possível. Assim, Nietzsche coloca a seguinte pergunta: essa vida, assim como você a vive hoje, seria digna de ser repetida por toda eternidade?
*Pedro Paulo Sammarco Antunes é psicólogo. Atualmente está cursando doutorado emPsicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em 2010 defendeu o título de mestre em Gerontologia pela mesma instituição. Concluiu sua pós-graduação lato-sensu em Sexualidade Humana pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 2008. Tem experiência na área de psicologia clínica com ênfase em sexualidade humana. Em 2013 lançou seu mestrado em livro: “Travestis envelhecem?”, publicado pela editora Annablume.